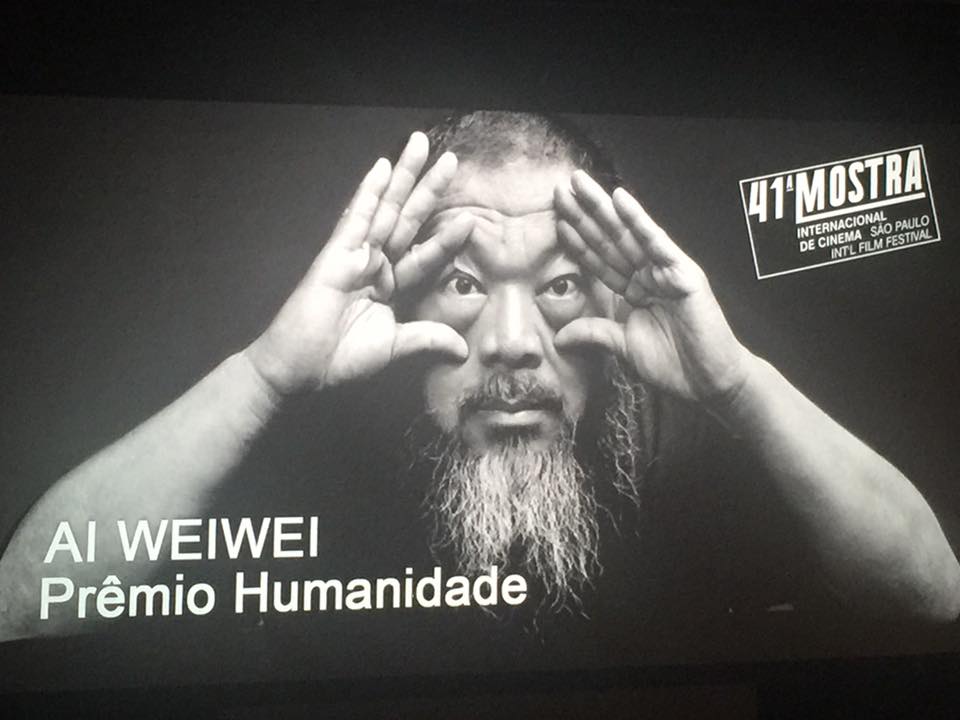Dia 06
Vi apenas três filmes (desculpem-me!):
23) O grego Yorgos Lanthimos não tem qualquer problema com o desconforto alheio. Aliás, considerando as reações que ele se esforçou para provocar no espectador com seus ótimos Dente Canino e O Lagosta, assistir a um filme do cineasta é quase uma garantia de duas horas movendo-se na poltrona para apaziguar a inquietação crescente – e é exatamente isto que temos em seu novo The Killing of a Sacred Deer. O fascinante no Cinema de Lanthimos, porém, é que ele não cria este tipo de narrativa gratuitamente, apenas pelo prazer do choque, mas sim para dar vazão à sua visão claramente autoral, que conta com uma lógica sólida, mesmo que nem sempre facilmente compreendida (e julgando o número de críticos que deixaram a sessão do longa no Festival de Cannes – especialmente depois de um incidente específico que todos que o virem reconhecerão -, há muitos profissionais reclamando da mesmice do cinema contemporâneo, mas sem estômago para ter sua queixa atendida).
Abrindo a projeção com uma música operática, de tons trágicos, sobre a tela completamente escura, o longa já começa a construir sua atmosfera lúgubre a partir do primeiro segundo, cortando a seguir para um coração exposto durante uma cirurgia cardíaca – e é o cirurgião Steven Murphy (Colin Farrell) que iremos acompanhar a partir deste instante. Barbudo e com modos secos, o médico se encontra com o adolescente Martin (Barry Keoghan), filho de um ex-paciente e com quem parece manter algum tipo de amizade. As coisas começam a mudar, no entanto, quando o caçula de Steven, Bob (Sunny Suljic) subitamente perde o movimento das pernas, sendo submetido a todo tipo de exame sem que um diagnóstico seja alcançado. À medida que o garoto piora, a filha mais velha do protagonista, Kim (Raffey Cassidy), também começa a adoecer, provocando o desespero de sua mãe, Anna (Nicole Kidman).
Seguindo um padrão já estabelecido em seus filmes anteriores, Lanthimos leva seus atores a recitarem suas falas em tons baixos e sem quaisquer inflexões, como se houvessem se condicionado a eliminar o sentimento de suas vozes. Mais do que isso: é como se todos naquele universo exibissem algum grau de autismo, já que parecem não compreender muito bem como responder uns aos outros, criando interações rígidas e durante as quais há sempre um incômodo subjacente, sendo surpreendente e divertido, para o espectador (mas não para aquelas pessoas), quando durante uma festa Steven casualmente conta a um colega como sua filha acabou de menstruar pela primeira vez.
Não é que os personagens não sintam, pois sentem; apenas não veem necessidade de expressar estes sentimentos em suas conversas. Aliás, é notável como Farrell e Kidman levam o público a perceber o sofrimento do casal Murphy mesmo com seus discursos monocórdicos, evocando uma angústia crescente a partir de seus olhares ou pequenas quebras nos padrões de seus diálogos. Enquanto isso, o jovem Barry Keoghan cria uma figura assustadora em sua impassividade, projetando um ar de ameaça palpável sem jamais erguer a voz ou demonstrar nervosismo.
A estratégia visual de Lanthimos e do diretor de fotografia Thimios Bakatakis colabora para a eficácia deste estranho universo, obviamente, sendo verdadeiramente brilhante o uso constante de grandes angulares que não só deformam os cenários em suas laterais como os expandem em sua profundidade, deixando os personagens ainda menores e mais frágeis (e o fato de normalmente estarem deslocados para um quadrante inferior do plano é outro recurso de linguagem fabuloso). Além disso, ao manter a câmera se movimentando constantemente em lentos travellings por todos os ambientes, os cineastas sugerem para o público de forma sutil que algo ameaçador está sempre prestes a acontecer, criando ecos inconfundíveis da abordagem de Kubrick em O Iluminado (o que é sublinhado também pelos longos corredores e pela trilha sonora).
Abraçando de vez a vibração funesta em seu sufocante ato final, The Killing of a Sacred Deer curiosamente se torna mais pessimista à medida que seus personagens demonstram uma vontade cada vez maior de viver – e mesmo ofertas de auto sacrifício são feitas não legitimamente, mas como uma tentativa de provar o próprio valor e, consequentemente, comprovar o direito daquela pessoa à vida, ainda que ciente de que isto significará a morte de outro membro da família. Desta forma, quando todos se reúnem na sala em um momento que não preciso descrever para que quem assistiu ao filme o reconheça, o sentimento que experimentamos oscila entre o puro horror e a constatação de que o que testemunhamos não poderia ser diferente.
E esta é a diferença entre o puro niilismo e uma narrativa que emprega a destruição não como choque gratuito, mas para dizer algo sobre a natureza humana. Mesmo que o que diz provoque repugnância.
24) Em termos de produtividade, o sul-coreano Hong Sangsoo deixa até mesmo Woody Allen embaraçado: apenas nos últimos sete anos, o diretor realizou nada menos do que doze longas – e somente em 2017, ele emplacou um trabalho no Festival de Berlim (sobre o qual escrevi aqui) e outros dois no de Cannes.
Incluído na mostra competitiva do evento, Geu-hu (ou O Dia Seguinte) conta com a abordagem tradicional de Sangsoo, envolvendo personagens que se entregam a longas discussões sobre o amor, suas frustrações e outras questões de natureza filosófica e existencial que possam surgir no meio do caminho. Protagonizado por Haehyo Kwon, o filme traz o ator como Bongwan, um editor que, certa manhã, quando acorda mais cedo para ir para o trabalho, faz uma pausa longa demais quando a esposa pergunta, brincando, se ele tem uma amante. Enquanto caminha para o escritório, ele se lembra de como seu caso com a assistente teve início e fim, o que o obrigou a encontrar uma nova funcionária, Areum (Minhee Kim), que começará na função exatamente naquele dia.
Investindo em uma estrutura um pouco mais fluida do que o habitual, Sangsoo e seu montador habitual, Sungwon Hahm, introduzem flashbacks e criam elipses de maneira ágil e elegante, como, por exemplo, no instante em que uma personagem vai ao banheiro e, depois de ouvirmos o som da descarga, uma outra mulher sai do toalete em um período diferente. De modo geral, contudo, Geu-hu traz o ritmo típico da filmografia do cineasta, em que cada cena é rodada praticamente em um plano contínuo enquanto a câmera faz pequenas panorâmicas entre os interlocutores (e um ou outro zoom), que se posicionam de perfil para o espectador.
Da mesma forma, é claro que todos se entregam à bebedeira em um ou mais momentos, consumindo soju e permitindo que o nível alcoólico crescente influencie na franqueza com que conversam e nos temas que abordam – o que envolve muita repetição e debates circulares, reafirmando Songsoo como um realizador especializado no gênero “bêbado falando borracha”.
Mas se isto soa pejorativo, permitam-me corrigir a impressão: ainda que os temas e a abordagem típicos do diretor não me encantem particularmente, seus trabalhos são sempre simpáticos graças à maneira como seus personagens se abrem uns para os outros. Só é uma pena que, às vezes, seu estilo seja típico a ponto de quase se transformar numa autoparódia.
25) Mas Hong Sangsoo não é o único realizador com múltiplos trabalhos presentes no festival de Cannes: diretor e roteirista do excelente 120 Batimentos por Minuto, sobre o qual escrevi anteontem), Robin Campillo aparece também como roteirista de L’atelier, comandado por Laurent Cantet (Entre os Muros da Escola).
Retratando alguns poucos dias da vida do jovem Antoine (Matthieu Lucci), o filme se passa em na pequena La Ciotat, onde a escritora Olivia (Marina Föis) oferece um workshop para autores aspirantes. Dono de uma personalidade introspectiva, o rapaz aos poucos exibe um pendor para a raiva que assusta Olivia e afasta seus colegas de estudo, expressando também ideias potencialmente xenofóbicas e islamofóbicas. No entanto, ao mesmo tempo em que repreende Antoine, Olivia enxerga neste uma possível inspiração para seu novo livro – algo que provoca um confronto com consequências potencialmente graves.
Ancorado praticamente apenas na troca de diálogos entre os personagens, L’atelier é uma obra que frequentemente aborda tópicos que talvez sejam mais instigantes para quem vive da escrita do que da leitura, envolvendo debates sobre o processo criativo, sobre carpintaria dramática e sobre a ansiedade que acompanha o ato de escrever. Por outro lado, por mais que as locações sejam belas, a narrativa se apresenta irregular, pecando também ao não conseguir convencer o público a comprar a relação mais importante para seus propósitos: aquela entre Olivia e Antoine.
Encerrando com um monólogo que mastiga demais as motivações do protagonista, o longa é um estudo de personagem razoável, mas nada que lembre a força dos trabalhos anteriores de seu diretor e de seu roteirista.
23 de Maio de 2017