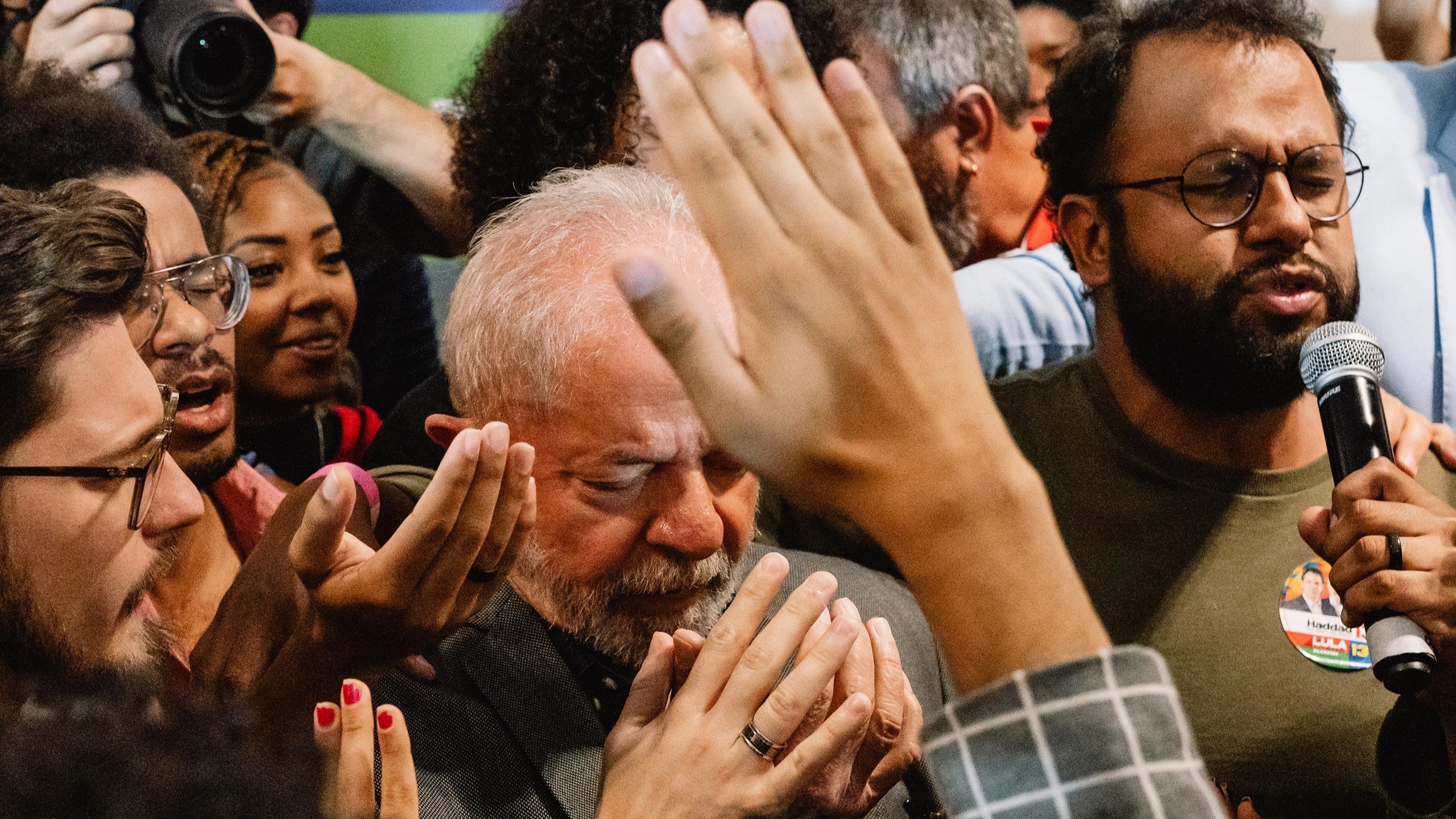The New Corporation: The Unfortunately Necessary Sequel

Dirigido por Jennifer Abbott e Joel Bakan. Roteiro de Joel Baken.
Nem sempre é fácil ligar os pontos.
Quando alguém (por exemplo... hum... eu) escreve algo como “o capitalismo está destruindo o planeta”, “as corporações não se importam com as pessoas” ou “o mercado é sociopata”, é compreensível que parte dos leitores julgue se tratar de uma hipérbole – ou mesmo um absurdo – e descarte a afirmação e quem a escreveu. E até mesmo quem já tem uma visão negativa sobre um modelo econômico baseado no puro consumismo encontra dificuldade, às vezes, para fazer a conexão entre este e o ressurgimento da ameaça do fascismo.
Parte importante da responsabilidade por esta falha de comunicação é de quem se posiciona constantemente sobre temas políticos (por exemplo... hum... eu), mas nem sempre se preocupa em explicar como chegou às posições que defende, mas uma outra parcela de culpa está relacionada à natureza humana, que tende a se mostrar cética quanto à vilania das corporações, julgando difícil acreditar que qualquer pessoa (física ou jurídica) destruiria o planeta de modo consciente. Por que fariam isso, afinal? "Só pode ser alarmismo para permitir a manipulação", preferem acreditar enquanto apontam para os discursos filantrópicos de Bill Gates, que, afinal, investe em escolas para crianças pobres na África, ou para as ações de Jamie Dimon, CEO do banco JPMorgan Chase, que destinou milhões de dólares para salvar a falida cidade de Detroit. Quem ousaria criticar homens tão nobres além de “comunistas” que querem tomar as posses de quem as conquistou com muito trabalho a fim de dá-las a quem não faz nada na vida? Além disso, se não fosse a iniciativa privada, tudo estaria muito pior, já que o Estado é incapaz de fazer qualquer coisa, não é mesmo?
E é aí que a oportunidade para o diálogo surge – talvez não com aqueles que abraçaram de vez o bolsonarismo-negacionista-da-Ciência-admirador-do-autoritarismo-defensor-da-homofobia-misoginia-xenofobia, mas com quem apenas não conectou os pontos que nos trouxeram até os dias de hoje.
Houve uma época, de fato, que a cultura corporativa parecia ser capaz de manter um equilíbrio saudável com o resto da sociedade, buscando o lucro, mas compreendendo a imoralidade de certas posições. Na década de 50, por exemplo, os maiores salários de diretores de corporações chegavam a ser 20 vezes maiores do que a média dos trabalhadores da empresa; hoje, contudo, esta diferença se ampliou para 270 vezes, chegando, em alguns casos, a ser maior que mil – como no caso do já citado Jamie Dimon, cuja remuneração total é, repito, mais de mil vezes maior do que a média da de seus funcionários.
Como isso aconteceu? Bom, em uma só palavra: ganância. Ainda que obtivessem largos lucros, muitas das principais corporações do mundo se ressentiam por não conseguirem expandi-los ainda mais, já que havia regulamentações que buscavam limitar ilegalidades, barreiras que controlavam a exploração predatória de recursos naturais e, claro, impostos que eram revertidos em investimento em Saúde, Educação e infraestrutura para beneficiar a população. Foi neste contexto que o economista Milton Friedman e seus companheiros da chamada Escola de Chicago começaram a pregar contra o que chamaram de “intervenção do Estado” e desenharam um plano que permitisse que as empresas atuassem com liberdade cada vez maior – algo que puderam experimentar livremente no Chile depois do golpe militar de 73, quando Pinochet entregou as chaves da economia do país para os discípulos de Friedman, que passaram a privatizar estatais, desregulamentar todos os setores e a cortar impostos voltados para as elites, o que causou um estarrecedor salto na desigualdade social.
Isto, porém, não era problema para as corporações e, assim, logo este modelo neoliberalista ganhou força mundial nos governos de Margaret Thatcher, no Reino Unido, e de Ronald Reagan, nos EUA. Para tornar tudo ainda mais desastroso, estas políticas tiraram cada vez mais recursos do Estado através de subsídios, cortes nos impostos e envio de dinheiro para paraísos fiscais, limitando o que o governo podia fazer para quem não vivia de investimentos. Além disso, com a queda na arrecadação, o Estado se via forçado por organizações mundiais (como o FMI e o Banco Mundial) a adotar a austeridade como centro de sua gestão, cortando mais e mais verbas de serviços essenciais, o que tornava setores e instituições estatais ineficientes.
O que, por sua vez, criava a oportunidade para que os mesmos responsáveis por toda a situação pudessem alegar que as falhas eram do Estado e que tudo deveria ser privatizado e passar a ser administrado por corporações multinacionais. Nos Estados Unidos, por exemplo, a iniciativa privada controla penitenciárias, parques, todo o sistema de saúde e agora avança sobre os correios e sobre a água.
E como isto nos trouxe de volta aos braços do fascismo? Ora, com uma sociedade cada vez mais desigual, na qual o abismo entre ricos e pobres se alarga rapidamente e boa parte da população enfrenta o desemprego, a pressão econômica, a falta de acesso a serviços básicos e constata que passará a vida trabalhando para não passar fome, era inevitável que um sentimento generalizado de insatisfação surgisse e crescesse – especialmente entre aqueles que, cientes de que fazem parte de certa demografia (homens brancos heterossexuais), acreditam ter direito a muito mais do que veem em seu cotidiano. Neste cenário, a saída mais fácil e “satisfatória” é atribuir estas injustiças a um inimigo visível que pode ser identificado e combatido. Imigrantes. Negros. A comunidade LGBTQ+. Mulheres.
Ou, em uma versão ainda mais simplista, “os comunistas”.
E é aí que surgem líderes populistas que canalizam toda esta insatisfação, toda esta raiva e todo este desejo por mudança na “missão” de enfrentar estas ameaças e “restaurar” o lugar de seus seguidores na sociedade.
O que nos traz de volta ao início da discussão e ao papel das corporações, que, não por acaso, frequentemente apoiam estes líderes com o compromisso de que aprovem reformas políticas e econômicas que continuem a permitir a expansão de seus lucros – ao mesmo tempo em que, com isso, combatem candidatos de esquerda que poderiam justamente frear este processo.
O irônico, portanto, é que as mesmas entidades que provocaram toda esta desigualdade e insatisfação agora se apresentam como as únicas capazes de nos salvar, exigindo que entreguemos nossas estatais, nossos recursos naturais, nossas informações e nossa dignidade ao mesmo tempo em que provocam desastres de toda espécie (o colapso de 2008, o estouro das barragens em Mariana e Brumadinho, derramamentos de petróleo nos oceanos, acidentes por falta de investimento em segurança, etc) e limpam sua sujeira à base de suborno e, no caso do agronegócio no Brasil, assassinatos de lideranças indígenas e ambientais.
Mas e o “Capitalismo Sustentável”? “Criativo”? A filantropia de Bill Gates?
Infelizmente, a verdade inquestionável é que mesmo que os CEOS das maiores corporações quisessem fazer alguma diferença positiva no mundo, isto seria inviável em função de suas obrigações legais de privilegiarem o investimento de seus acionistas, já que têm uma responsabilidade para com estes. O problema, portanto, só seria solucionado com uma mudança estrutural, não individual. Aliás, estes limites estão presentes também em várias das iniciativas supostamente “filantrópicas”: a Bridge International Academies, por exemplo, que tem o investimento de Gates e constrói escolas na África, apresenta vários problemas graves que decorrem da exigência do lucro (pois é). Não é à toa que várias associações de professores do continente africano denunciam o despreparo dos profissionais contratados pela empresa, que basicamente se limitam a ler em tablets, em sala de aula, os roteiros preparados pela matriz e que os instrui até mesmo com relação a como devem se movimentar na sala e se dirigirem aos alunos. E isto sem considerarmos a gravidade de se entregar a educação das crianças e dos jovens para corporações multinacionais, comprometendo a identidade nacional e cultural do país. Não é surpresa, diga-se de passagem, que a cofundadora e CEO da Bridge Academies diga, durante o documentário The New Corporation, que “qualquer um pode ser professor. (...) Basta saber ler.”
Mas como podemos contornar todos estes problemas, já que, na maior parte das vezes, a própria informação é controlada por corporações e seus braços na mídia, que dedicam boa parte de seus esforços para demonizar líderes de esquerda, que representam uma ameaça aos seus interesses, e para convencer a população de que a solução está na iniciativa privada (claro) e no neoliberalismo?
Mobilização política – teórica e prática. Ir às ruas, construir alternativas, lançar novas lideranças, mas também educar. Compreender que sem que as pessoas entendam o que está acontecendo não será possível mudar nada. Gritar de frustração e xingar são escapes momentâneos eficazes, mas não ajudam no quadro geral.
Por outro lado, compartilhar informação é fundamental para que mais indivíduos percebam que sua cidadania está cada vez mais associada ao seu poder aquisitivo e à sua capacidade de consumir. E que os mesmos que tentam vender a ideia de que o socialismo é algo ruim para o povo não hesitam em se tornar ferrenhos socialistas quando precisam do Estado para salvá-los dos contínuos desastres que provocam, sejam estes econômicos, sociais ou ambientais.
Já para o resto da população resta apenas o mais selvagem dos capitalismos.
30 de Janeiro de 2021
(Curtiu o texto? Se curtiu, você sabia que o Cinema em Cena é um site totalmente independente cuja produção de conteúdo depende do seu apoio para continuar? Para saber como apoiar, basta clicar aqui - só precisamos de alguns minutinhos para explicar. E obrigado desde já pelo clique! Mesmo!)